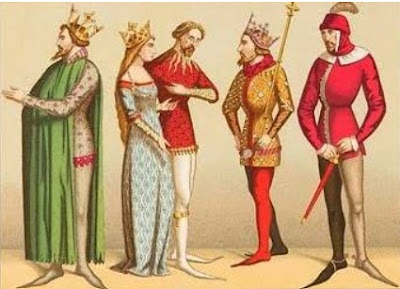Durante a sua carreira de guerra, Schwieger capitaneou três submarinos diferentes, em um total de 34 missões. Ele afundou 49 navios. Sob o comando de Schwieger, o U-20 tinha pelo menos um cão a bordo. Houve uma ocasião em que havia seis, quatro deles filhotes, todos dachshunds, produto inesperado de um ataque à costa da Irlanda.
Naquela ocasião, seguindo as regras de cruzeiro, Schwieger perseguiu e deteve um navio português. Esperou que os tripulantes fossem embora e ordenou à guarnição de peça que afundasse o barco. Era o seu modo favorito de ataque. Reservava os poucos torpedos de que dispunha para os maiores e melhores alvos. A guarnição de peça tinha boa pontaria, e disparou uma série de projéteis contra a linha de flutuação do cargueiro. Logo o navio sumiu de vista, ou, como disse Zentner, “se ajeitou para fazer um pouco de navegação vertical”. No meio dos destroços que flutuavam na superfície, os homens avistaram uma vaca nadando e mais alguma coisa. O acordeonista barbudo foi o primeiro a ver, e gritou: “Ach Himmel, der kleine Hund!” Apontou para uma caixa. Uma minúscula cabeça e duas patas de uma cadela apareciam na borda. O U-20 se aproximou; os tripulantes içaram a cadela para bordo. Deram-lhe o nome de Maria, em homenagem ao cargueiro afundado. Mas não havia nada que pudessem fazer pela vaca.
O submarino já tinha um cão a bordo, um macho, e não demorou para que Maria ficasse grávida. Ela pariu quatro filhotes. O acordeonista ficou encarregado de tomar conta dos cães. Achando que seis cães eram demais para um U-boat, os tripulantes deram três filhotes a outro navio, mas ficaram com um. Zentner dormia com ele em seu beliche, perto de um torpedo: “Assim, toda noite eu dormia com um torpedo e um filhote de cachorro.”
É irónico constar nas narrativas de que Schwieger era capaz de criar um ambiente muito humano, testemunho da sua habilidade para liderar pessoas, tanto mais imaginando nós como serão as condições dentro de um U-boat. Os navios eram atulhados, em especial no início de uma missão de patrulhamento, com dispensa de alimentos em todos os lugares possíveis, incluindo a latrina. Carnes e hortaliças eram guardados nos locais mais frios, em meio à munição. A água era racionada. Quem quisesse fazer a barba tinha de usar restos do chá da manhã. Ninguém tomava banho. Alimentos frescos duravam pouco. Sempre que possível, os tripulantes saíam em busca de comida. Um U-boat despachou um grupo de caça para uma ilha escocesa e matou uma cabra. Tripulantes rotineiramente saqueavam navios à procura de presunto, ovos, bacon e frutas. O ataque de um avião britânico deu aos tripulantes de um U-boat um inesperado regalo quando a bomba lançada errou o alvo e explodiu no mar. O abalo trouxe à superfície um cardume de atuns aturdidos.
Os tripulantes do U-20 certa vez saquearam um barril de manteiga, mas àquela altura o cozinheiro do navio não tinha mais nada à mão que servisse para fritar. Schwieger saiu às compras. Pelo periscópio avistou uma frota de barcos pesqueiros e emergiu bem no meio deles. Os pescadores, surpresos e aterrorizados, não tiveram dúvida de que seus barcos seriam afundados. Mas Schwieger só queria peixe. Aliviados, eles deram aos tripulantes todo o peixe que puderam carregar.
Schwieger ordenou ao submarino que submergisse, para que a tripulação jantasse em paz. “E então”, disse Zentner, “havia peixe fresco, frito na manteiga, grelhado com manteiga, salteado na manteiga, tudo o que pudéssemos comer”. Porém aquele peixe e seus odores residuais só podiam piorar o que a vida no U-boat tinha de mais desagradável: o ar dentro do navio. Primeiro havia a base de fedor de dezenas de homens que não tomavam banho, cujas roupas de couro não pegavam ar, e que compartilhavam um pequeno lavabo. A sanita de vez em quando exalava para o navio o cheiro de um hospital de cólera, e só se podia dar descarga quando o U-boat estivesse na superfície ou em águas rasas, para que a pressão submarina não impulsionasse material de volta para dentro. Isso costumava acontecer com oficiais e tripulantes novatos e era chamado de “batismo de U-boat”. O odor do óleo diesel infiltrava-se em todos os cantos, fazendo com que toda a chávena de chocolate e toda a fatia de pão torrado tivessem gosto de óleo. E havia ainda as fragrâncias que a cozinha continuava a exalar bem depois que as refeições eram preparadas, mais notavelmente aquele primo legítimo do cheiro do corpo masculino, o cheiro de cebola velha.
Tudo isso era agravado por um fenómeno exclusivo dos submarinos, que ocorria quando estavam submersos. Os U-boats carregavam quantidades limitadas de oxigênio, em cilindros, que injetavam ar no navio a uma proporção que dependia do número de homens a bordo. Fazia-se o ar exalado circular em um composto de potássio para expurgar o ácido carbônico, e injetava-se de novo esse ar processado na atmosfera do navio. Tripulantes de folga eram incentivados a dormir, porque dormindo consome-se menos oxigênio. Quando submerso em grande profundidade, o navio desenvolvia uma atmosfera interior parecida com a de um pântano tropical. O ar ficava desagradavelmente úmido e denso, porque o calor gerado pelos homens, pela emanação dos motores a diesel recém-desligados e pelo aparato elétrico da embarcação aquecia o casco. Quando o navio descia em águas cada vez mais frias, o contraste entre o calor interno e a frieza externa produzia uma condensação que empapava roupas e gerava colónias de bolor. Os tripulantes davam ao fenómeno o nome de “suor de U-boat”. Ele tirava o óleo do ar e o depositava no café e na sopa, produzindo vazamentos de óleo em miniatura. Quanto mais tempo o navio ficasse submerso, piores as condições se tornavam. As temperaturas internas ultrapassavam os 37°C. “Você não faz ideia da atmosfera criada gradualmente nessas circunstâncias”, escreveu um comandante, Paul Koenig, “nem da temperatura infernal que fermenta dentro da concha de aço”.
Os homens ansiavam pelo momento em que o navio subiria para a superfície e a escotilha da torre de comando seria aberta. “A primeira lufada de ar fresco, a escotilha da torre de comando aberta e o despertar dos motores a diesel, depois de quinze horas no fundo, constituem uma experiência que merece ser vivida”, disse outro comandante, Martin Niemöller. “Tudo desperta para a vida e não há alma que pense em dormir. O que todos querem é uma lufada de ar e um cigarro fumado no abrigo do passadiço.” Além disso, todos esses desconfortos eram sofridos num clima de constante perigo, com todos cientes de estarem sujeitos ao pior tipo imaginável de morte: a lenta asfixia em um tubo de aço escuro no fundo do mar. Numa das patrulhas do U-20, essa possibilidade chegou a parecer real e iminente.
Em abril de 1917, o Kptlt. Walther Schwieger recebeu o comando de um novo submarino, o U-88, maior do que o U-20 e com duas vezes mais torpedos. Poucos meses depois, em 30 de julho, foi agraciado com a mais alta condecoração da marinha alemã, uma bela cruz azul de nome francês, Pour le Mérite. Até àquela época, apenas sete comandantes de U-boat tinham recebido uma, sua recompensa por ter afundado 190 mil em arqueação bruta de navios. Só o Lusitânia correspondia a 16% desse total.
Em Londres, no velho edifício do Almirantado, a Sala 40 rastreou Schwieger e seu novo navio durante quatro cruzeiros, um dos quais durou dezanove dias. O quarto cruzeiro começou em 5 de setembro de 1917 e foi consideravelmente mais curto. Logo depois de entrar no mar do Norte, Schwieger deparou com um navio camuflado britânico, o HMS Stonecrop, pertencente a uma classe chamada mystery ships, de navios que pareciam cargueiros vulneráveis, mas estavam, na verdade, fortemente armados. Ao tentar escapar, Schwieger atirou o seu submarino para dentro de um campo minado britânico. Nem ele nem os tripulantes sobreviveram, e o submarino jamais foi encontrado. A Sala 40 assinalou a perda com um pequeno registo a vermelho: “Afundado.”
Na Dinamarca, moradores da costa continuaram a visitar a praia onde o U-20 tinha encalhado, e de vez em quando subiam nos destroços, até que a marinha dinamarquesa destruiu os restos em 1925, com uma explosão espetacular. Nessa época, a torre de comando, o canhão de convés e outros componentes já tinham sido removidos. Hoje residem num museu à beira-mar em Thorsminde, Dinamarca, num austero trecho do litoral do mar do Norte. Separada da base e coberta de ferrugem, a torre de comando fica à frente do museu, com toda a majestade de um fantasma desconsolado da aterradora embarcação que um dia andou à caça pelos mares e mudou a história.