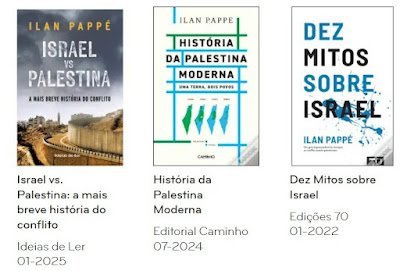Desconsiderar totalmente o impacto cultural da imigração é um erro dado que as questões de identidade e integração são centrais para o bom funcionamento das sociedades. A história demonstra que mudanças abruptas na paisagem demográfica podem gerar tensões sociais e políticas significativas, especialmente se forem mal geridas. Além disso, aquilo a que chamamos “povo”, exibe os seus valores culturais, que são imunes a qualquer análise científica quantitativa, como a marca fundamental da confiança para a coesão social.
Por isso, não é com a ciência dos dados que se consegue entender aquela entidade que antigamente se designava por "povo". Valores culturais são aspetos idiossincráticos que levaram muitos anos a cimentar dentro de uma comunidade mais ou menos alargada conforme a sua história e geografia. Ignorar completamente essa idiossincrasia dos povos é caminho andado para alimentar reações populistas que se apropriam dessas fraquezas humanas para fins eleitorais. O desafio que se coloca à Esquerda, seja lá o que isto for (Velha Esquerda versus Nova Esquerda) é falar a esse "povo" sem cálculo ideológico, dogma ou preconceito.
A posição que reduz o debate à questão do acatamento da lei é, por consequência limitada porque ignora os aspetos do âmago mais sensível da convivência social. Ainda que o acatamento da lei seja fundamental para a manutenção de uma sociedade ordenada, não é suficiente para garantir a harmonia cultural e o sentimento de pertença coletiva. As culturas não são apenas abstrações ou enfeites sociais. Refletem o modo como as pessoas vivem, interagem e encontram sentido de comunidade. Quando valores culturais centrais como, por exemplo, o modo livre como nos vestimos, são olhados com olhares lubrificantes, isso provoca preocupação e ansiedade. É uma questão que transcende o mero cumprimento da lei, porque toca na pele das pessoas que não há laboratório científico que o possa demonstrar com dados numéricos. Minimizar essas preocupações, como vejo ser feito por respeitáveis pessoas, é não apenas dar munições aos adversários, mas é também estar a utilizá-las atirando-as para os seus próprios pés. Ninguém se sente confortável quando são os nossos a quererem tirar-nos o gosto daquilo que mais gostamos.
Esse "divórcio" entre elites progressistas e a base popular pode ser um dos fatores que explicam a erosão do apoio aos partidos de esquerda na União Europeia. À medida que esses partidos desconsideram questões práticas e culturais ligadas à imigração, deixam um espaço vazio que é rapidamente ocupado por movimentos populistas e nacionalistas, que se posicionam como os verdadeiros defensores das "pessoas comuns" e suas tradições. Se a Esquerda deseja reconquistar relevância, ela precisa abandonar a postura de superioridade moral e reconhecer que os cidadãos comuns não são irracionais ou intolerantes por quererem preservar a sua cultura ou por terem preocupações legítimas com a imigração descontrolada.
Em vez de se manter como representante dos trabalhadores, a esquerda passou a ser identificada com elites académicas mediáticas. Essas elites frequentemente promovem visões universalistas e cosmopolitas que nem sempre refletem as experiências ou preocupações das classes médias e trabalhadoras. Para se recuperar, a Esquerda não pode amesquinhar as preocupações culturais e identitárias. Caso contrário, continuará perdendo relevância para forças que, embora menos sofisticadas, falam diretamente ao coração dos eleitores. A Esquerda ao ter-se deixado seduzir por ideologias desligadas da vida concreta das pessoas não intelectualizadas, perdeu o tino a armar ao fino. Para quem está a lutar para subir na vida, a retórica da Nova Esquerda elitista e maternalista, não é apenas vazia, é hostil. A ideia central do multiculturalismo – que diferentes culturas podem coexistir lado a lado, mantendo as suas especificidades, sem grandes tensões – é sedutora no plano teórico. Contudo, na realidade, ele frequentemente resulta em fragmentação social, segregação e conflitos, especialmente quando os valores de determinadas culturas são incompatíveis com os valores da sociedade de acolhimento. É claro que a assimilação também exige esforço por parte da sociedade de acolhimento, como oferecer oportunidades de aprendizagem da língua, acesso à educação e um mercado de trabalho que facilite a integração.