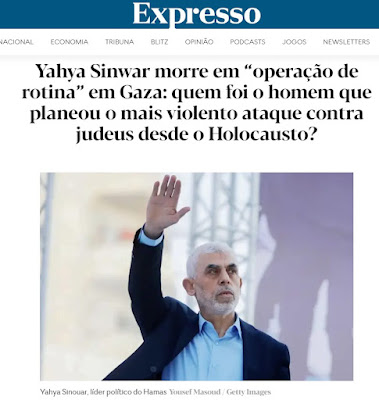quinta-feira, 31 de outubro de 2024
Entre demagogos e utopistas
A História que não chegou ao fim, antes pelo contrário, mostra-nos demais que tanto ideólogos como populistas carismáticos falharam sempre. A História é um testemunho incansável do fracasso de ideólogos e populistas que tentaram, em várias épocas, moldar a sociedade conforme ideais rígidos ou promessas inflamadas. A crença em soluções absolutas – seja no racionalismo inflexível dos ideólogos, seja nos simplismos dos populistas carismáticos – nunca levou a nada de positivo, dada a complexidade e as nuances da natureza humana e social.
É errada a desconsideração dos demagogos para com as contradições intrínsecas e inerentes à diversidade dos interesses humanos. Toda a demagogia tende a gerar movimentos de grande impacto, mas incapazes de sustentar transformações duradouras e verdadeiramente harmoniosas. Muitas vezes a tentativa de corrigir um erro acaba por criar outro, às vezes pior. O "fim da História" anunciado por alguns, como sabemos, é apenas mais um desses idealismos. Em vez de fechada, a História é aberta. Há sempre novos desafios e paradoxos que transcendem a capacidade humana para solucionar problemas que nunca tiveram solução ao longo da História.
Demagogos e utopistas tendem a atirar para quem está no poder, os culpados de todos os males da sociedade. Como se fosse possível que as sociedades pudessem ser perfeitas. Eles muitas vezes simplificam questões complexas, atribuindo todos os problemas da sociedade a um grupo específico, geralmente quem está no poder. Essa abordagem tende a criar uma narrativa de "nós contra eles", iludindo-se com a ideia de que, ao remover ou substituir os que estão no poder, todos os problemas desaparecerão. Essa visão ignora a complexidade inerente às sociedades e os problemas estruturais que não se resolvem apenas com mudanças de liderança. A busca pela perfeição social ou política, como se fosse alcançável em sua totalidade, é frequentemente um erro utópico: tenta-se impor um ideal rígido a uma realidade humana intrinsecamente caótica e diversa.
Demagogo e utopista são dois termos da diatribe ou catilinária política que carrega um peso ideológico por parte dos adversários. Assim, no imaginário político, “demagogo” é mais vezes associada à direita populista por adversários de esquerda. Utopista é frequentemente atribuído pela direita aos adversários da esquerda. Portanto esses termos tendem a refletir mais a forma como o adversário político vê o outro do que propriamente a realidade. Os demagogos são vistos como exploradores das emoções e temores populares, que com frequência apresentam soluções simples e diretas para problemas complexos, apelando a uma base conservadora e nacionalista. Já os utopistas, por seu lado, são vistos como idealistas que propõem mudanças radicais, imaginando um futuro perfeito em que se eliminarão as injustiças sociais e as desigualdades, por vezes sem dar atenção suficiente à viabilidade prática dessas propostas. No fundo, ambos acabam simplificando e exagerando em suas visões, seja ao projetar um passado glorificado ou um futuro idealizado.
É verdade que, em alguns círculos, mulheres académicas (assim como outros grupos com formação superior) podem reivindicar uma certa autoridade moral ou intelectual ao abordar temas sociais, especialmente quando se trata de causas como igualdade de género, direitos das minorias e justiça social. Esse fenómeno reflete um traço comum a muitos grupos que, ao obter um maior nível de especialização, assumem que o seu conhecimento e consciência das questões estruturais lhes conferem uma posição moral privilegiada. Contudo, essa "superioridade moral" reivindicada pode ser interpretada de maneiras diferentes. Para uns, é uma forma de legitimar os seus estudos numa visão crítica da sociedade; para outros, soa como uma forma de elitismo intelectual, em que se desqualifica a experiência e o conhecimento daqueles que não pertencem ao meio académico. Essa diferença de percepção cria um abismo entre o discurso teórico e a realidade prática, levando a divisões na sociedade, inclusive dentro dos próprios movimentos que defendem a igualdade e os direitos das minorias. Talvez o verdadeiro desafio seja encontrar um equilíbrio entre conhecimento especializado e respeito pelas experiências e saberes práticos de outras classes e contextos.
É difícil negar que o Ocidente enfrenta sinais de declínio em diversas esferas. Esse fenómeno tem sido marcado por fatores como crises económicas frequentes, divisões políticas internas, desindustrialização em alguns setores, e um visível cansaço cultural e espiritual. No entanto, o declínio não é algo imediato; ele se desenrola como um processo gradual e multifacetado, lembrando, de certa forma, o fim do Império Romano, em que várias crises convergiram lentamente.
Há ainda o contraste com o crescimento de potências como a China e a Índia, que desafiam a hegemonia cultural e económica do Ocidente, somado ao fortalecimento de blocos como os BRICS. Nesse cenário, o Ocidente parece cada vez mais dividido entre manter uma identidade e valores próprios e tentar responder às demandas de um mundo cada vez mais multipolar. Esse declínio, ao que tudo indica, é menos uma queda abrupta e mais uma transição, onde os valores e as instituições ocidentais terão de enfrentar um contexto global onde a centralidade histórica do Ocidente, talvez, perderá relevância para um papel mais distribuído e plural.
Desde a década de 1980, com o avanço do neoliberalismo e das políticas de desregulamentação, houve uma mudança significativa na forma como o capitalismo opera. A estabilidade económica e o crescimento sustentado que caracterizavam o pós-guerra começaram a dar lugar a um capitalismo mais volátil, orientado por ganhos de curto prazo e menos comprometido com o bem-estar das classes trabalhadoras. Isso resultou em condições de vida piores para as gerações mais jovens, que enfrentam salários estagnados, habitação inacessível, educação e saúde cada vez mais caras e menos segurança no emprego. Além disso, a diminuição na expectativa de vida em algumas classes trabalhadoras é um sintoma alarmante dessa crise lenta do capitalismo. Esse fenómeno está ligado ao aumento do trabalho precário, à deterioração da saúde mental, ao crescimento do abuso de substâncias e à falta de acesso a cuidados médicos adequados, especialmente em regiões que sofreram com o fechamento de indústrias e a desindustrialização. A consequência é uma geração que vive com um sentido de precariedade, sem a segurança económica que seus pais ou avós tiveram, e que vê o seu futuro incerto e limitado. Este cenário revela que o capitalismo ocidental, tal como se consolidou nas últimas décadas, parece não conseguir mais sustentar a promessa de prosperidade e segurança que outrora ofereceu.
E apesar de os grupos mais privilegiados não terem culpa direta, a verdade é que o ressentimento dos que menos têm vai acabar por afetar também os que mais têm. Mesmo que as elites e grupos mais privilegiados não sejam diretamente culpados pela situação, o ressentimento acumulado das classes mais desfavorecidas tende a se dirigir a quem parece estar no controlo ou desfrutando de um nível de vida inacessível para a maioria. Esse ressentimento, por vezes, transforma-se em tensões sociais e políticas que, historicamente, acabam por atingir o próprio sistema e as classes privilegiadas, criando uma pressão por redistribuição ou, em casos mais críticos, por mudanças radicais na estrutura social.
Essa dinâmica já é visível em fenómenos como o crescimento dos movimentos populistas e o aumento da polarização política. Muitos desses movimentos capitalizam justamente sobre o ressentimento popular, prometendo desafiar as elites e restaurar algum tipo de "justiça social" para os que foram deixados para trás pelo sistema económico. À medida que a desigualdade se agrava, esses conflitos podem-se intensificar e resultar em pressões reais sobre as classes privilegiadas, que, mesmo sem ter causado diretamente as crises, se veem cada vez mais responsabilizadas por elas.
quarta-feira, 30 de outubro de 2024
A social-democracia nórdica
A social-democracia nórdica conseguiu evitar os extremos: de um lado o autoritarismo do socialismo Russo e do outro os excessos do neoliberalismo da América. Em vez disso buscou o caminho do meio, onde a intervenção estatal era vista como necessária para corrigir as falhas do mercado, promovendo o bem-estar social. O sucesso desse modelo de desenvolvimento humano com índices elevados de felicidade, atraiu o interesse e até mesmo a admiração de muitas partes do mundo. Entretanto, algo se modificou depois do elevado fluxo migratório oriundo do Próximo e Médio Oriente, e a desigualdade começou a crescer. Geraram-se tensões em torno do estado de bem-estar social, o que desencadeou o crescimento da extrema-direita que tem vindo a por em causa a sustentabilidade do modelo muito elogiado.
Os países nórdicos estão mesmo a ser tomados pela extrema-direita, isso não é ficção. E tal facto tem vindo a ser atribuído ao excesso de facilitismo em relação ao modo de vida das comunidades de origem muçulmana. A ascensão da extrema-direita nos países nórdicos, assim como noutras partes da Europa, tem-se relacionado em parte com a dificuldade de integração das diversas comunidades. A narrativa de que as políticas de acolhimento redundaram num colossal fracasso tem contribuído para dar força aos partidos de extrema-direita. Esses partidos frequentemente argumentam que as políticas social-democratas, que inicialmente buscavam promover a inclusão e a diversidade resultaram em tensões sociais, no aumento da criminalidade, e numa suposta balbúrdia identitária e cultural com o chavão da "nova invasão pacífica dos bárbaros". Esta em sentido inverso da antiga invasão dos bárbaros, após a queda do Império Romano do Ocidente, gente vinda de Norte para Sul.
Até agora, esquerda moderada e centro-esquerda, consideravam manifestamente exageradas as narrativas que apontavam o dedo aos imigrantes a causa do aumento da criminalidade e dos problemas da habitação. Mas ultimamente algo está a mudar, com a cedência dos moderados à retórica populista e xenófoba. Admitem, em abono da honestidade intelectual, que o aumento significativo de uma certa imigração descontrolada está ultimamente a começar a contribuir para algum mal-estar em algumas camadas da população mais desfavorecida. Começa-se a sentir dificuldade no processo de integração em ambos os lados da equação. Há cada vez mais pessoas indignadas com a forma degradante e precária em que estão a viver alguns imigrantes. Por outro lado, certas pessoas nativas sentem-se chocadas com certas aberrações de índole cultural dos estrangeiros. E isso está a alarmar comerciantes e empresários de sectores de atividade económica que depende completamente de mão de obra estrangeira.
Uma "maçã podre" pode contaminar todo o cesto. Esta metáfora serve para ilustrar como a presença de extremismos ou comportamentos radicalizados dentro de uma comunidade pode afetar a percepção geral sobre ela. Quando há indivíduos ou grupos que adotam posturas de intolerância ou violência, isso pode criar uma narrativa negativa que prejudica a imagem de toda a comunidade. Essa dinâmica pode levar a generalizações injustas, onde a ação de uma minoria é vista como representativa de todo o grupo. Isso reforça estereótipos e pode alimentar a hostilidade e a polarização, dificultando a construção de relações de confiança e diálogo. Por conseguinte, o desafio está em encontrar as formas de lidar com as "maçãs podres" sem deitar fora todo o cesto, promovendo um ambiente onde a diversidade e a pluralidade possam ser celebradas, enquanto se combatem ideologias e comportamentos que vão contra os valores democráticos e o respeito mútuo.
A história revela um padrão de conflitos e guerras que muitas vezes se repetem ao longo do tempo, frequentemente ligados a questões de identidade, poder, recursos e a incapacidade de resolver tensões de forma pacífica. Os "realistas" na política internacional argumentam que a natureza humana e as dinâmicas de poder inevitavelmente levam a conflitos, especialmente em contextos de rivalidade e competição por recursos. Esses realistas enfatizam que, apesar dos esforços de diplomacia e integração, existem fatores estruturais e interesses nacionais que podem levar a tensões e guerras. A dificuldade em encontrar soluções duradouras para as disputas e a resistência a aceitar a diversidade num mundo globalizado são algumas das razões pelas quais os conflitos continuam a emergir.
terça-feira, 29 de outubro de 2024
Avanços e percalços da História – Finale com brio opus nº 3
A possibilidade de uma convulsão social, marcada por conflitos entre identidades culturais e étnicas, é uma preocupação crescente em várias partes do mundo, especialmente em sociedades ocidentais onde a polarização parece estar a intensificar-se. A combinação de descontentamento económico, tensões raciais e culturais, e a fragmentação da coesão social pode, de facto, criar um terreno fértil para conflitos abertos. A ascensão de movimentos identitários reflete um desejo de proteção e valorização de identidades específicas, mas também pode levar a reações hostis por parte de outros grupos que se sentem ameaçados. Isso cria um círculo vicioso onde a retórica de "nós contra eles" se torna predominante, alimentando uma atmosfera de desconfiança e hostilidade.
Além disso: por um lado a deriva dos órgãos de comunicação para a espectacularização por causa das audiências, por causa da rendibilidade; a radicalização e a desinformação, exacerbadas pelas redes sociais, por outro lado – podem intensificar esses conflitos, criando "câmaras de ressonância" onde as visões extremas são reforçadas, tornando o diálogo construtivo ainda mais difícil. O que poderia ser um debate saudável sobre diversidade e inclusão pode rapidamente transformar-se em batalhas de palavras e, potencialmente, em ações violentas.
Embora a metáfora de uma "guerra civil" possa parecer exagerada, o que está em jogo são as narrativas em disputa sobre a identidade, a cidadania e o futuro das sociedades. Os riscos de violência ou de desestabilização social são reais, especialmente em um contexto onde as instituições políticas e sociais já estão sob pressão. A história nos mostra que conflitos sociais não são inevitáveis, mas também nos alerta sobre a fragilidade da paz social em tempos de mudança rápida que gera inevitavelmente descontentamento. Portanto, a necessidade de diálogo e compreensão mútua, mesmo em meio a diferenças profundas, é mais crucial do que nunca para evitar que essa tensão escale para conflitos mais graves.
Até agora o establishment político-mediático não quis acreditar, ou não quis ver, o que agora está a entrar peles seus olhos dentro. O establishment político e mediático frequentemente se mostrou relutante em reconhecer ou abordar as tensões sociais emergentes e a crescente polarização. Essa hesitação pode ser atribuída a várias razões, incluindo uma visão otimista ou idealista da sociedade, um apego a narrativas consolidadas e a crença de que as forças progressistas prevaleceriam sem a necessidade de uma reavaliação profunda das realidades culturais e sociais.
Muitos no establishment, tanto na política como nos Média, podem ter subestimado as preocupações legítimas de uma parte significativa da população que se sente deixada de lado, ignorada ou até ameaçada por políticas e discursos considerados progressistas ou globalistas. Em vez de abordar esses sentimentos de forma aberta e construtiva, muitas vezes a resposta tem sido a rotulação ou a desqualificação dos que expressam tais preocupações, o que pode ter contribuído para a crescente alienação e ressentimento. Além disso, a dinâmica das redes sociais e a rápida disseminação de informações tornaram mais difícil para os políticos controlarem o discurso público. Em vez de discutir os problemas de forma abrangente, o foco muitas vezes se voltou para narrativas polarizadoras que geram trincheiras, mas que não necessariamente refletem a complexidade das questões em jogo.
Essa desconexão entre o establishment e as experiências vividas de muitas pessoas alimenta uma crise de confiança nas instituições. À medida que as tensões sociais se intensificam, a necessidade de uma abordagem mais empática e consciente por parte das elites políticas e mediáticas se torna essencial para restaurar o diálogo e a coesão social. Ignorar ou minimizar essas realidades só tende a exacerbar a situação, potencialmente conduzindo a consequências mais graves.
E quando assim é, é sempre tarde demais para repor o status quo tal como costumava ser o desejo dos que cá estão, conforme epigrafado numa velha metáfora: “Para cá do Marão sobrevivem os que cá estão”. Pode ser tarde demais para restaurar o status quo anterior. Uma vez que as fissuras na sociedade se tornam profundas e as divisões ideológicas se acentuam, a capacidade de voltar à normalidade ou de implementar reformas significativas é significativamente comprometida. Essa dificuldade em retornar ao estado anterior pode ser atribuída a vários fatores, entre os quais avulta a Desconfiança. A desconfiança nas instituições tende a aumentar, dificultando a aceitação de soluções propostas por aqueles que antes eram vistos como legítimos representantes da sociedade.
Com o aumento da polarização, as partes em conflito podem tornar-se mais radicais em suas posições, tornando o diálogo e a negociação quase impossíveis. A sociedade fica cada vez mais fragmentada, com grupos identificando-se mais intensamente com suas próprias comunidades, em vez de buscar um entendimento comum. À medida que as crises se aprofundam, as demandas da população ficam mais urgentes e radicais, buscando transformações que vão além das soluções que os líderes de opinião consideram viáveis. A insistência em soluções que funcionavam no passado pode não ser suficiente para lidar com as novas realidades sociais e económicas. O que era aceitável antes pode não ser mais viável no contexto atual.
Esses fatores criam um ambiente em que as tentativas de restaurar o status quo são frequentemente recebidas com ceticismo e resistência, levando a um círculo vicioso de frustração e conflito. Assim, a capacidade do poder instituído e das instituições sociais de se adaptarem e responderem às realidades emergentes é crucial. Se não houver uma disposição para ouvir e comprometer a população, a distância entre elite e cidadãos continuará a crescer, dificultando ainda mais a recuperação de uma ordem social estável.
segunda-feira, 28 de outubro de 2024
Avanços e percalços da História – Andante opus nº 2
O que se está a passar um pouco pela Europa, um pouco pela América, em última análise trata-se de uma questão de sobrevivência étnico/cultural. A Europa e a América enfrentam um momento em que as questões de identidade cultural e étnica estão no centro dos debates sobre política, imigração, segurança e coesão social. Em muitos aspetos, essas regiões vivem uma luta de identidade, onde as mudanças demográficas e culturais provocam preocupações sobre a preservação de valores, tradições e, em última análise, o caráter de suas sociedades. Essa "sobrevivência étnico/cultural" reflete um medo crescente de que as fundações culturais possam ser diluídas diante da globalização, da imigração e de novas influências culturais e religiosas.
Na Europa, essa questão é visível em discussões sobre a "europeidade" — o que define a cultura europeia e como ela pode ser mantida em face de mudanças demográficas rápidas. Nos Estados Unidos, embora com uma base histórica e cultural distinta, observa-se um debate similar sobre a identidade nacional, a questão racial e os valores americanos tradicionais. Em ambos os casos, esse sentimento se mistura a preocupações económicas e políticas, como se a perda da identidade cultural pudesse significar uma ameaça à ordem social e à estabilidade. Mas esse fenómeno não é apenas uma reação às transformações internas; ele é intensificado por dinâmicas globais, como a migração de populações de áreas em crise para países mais desenvolvidos, buscando segurança e oportunidades. A "sobrevivência étnico/cultural" é, assim, uma resposta ao impacto de um mundo cada vez mais interconectado, no qual a preservação da identidade cultural é vista por alguns como vital para manter coesão e continuidade, enquanto outros defendem uma visão de integração e transformação mútua. Por isso, o desafio para o futuro talvez resida em encontrar uma maneira de respeitar e valorizar as identidades culturais locais, enquanto se lida com as realidades de um mundo em mudança — evitando, ao mesmo tempo, cair em extremos que possam ameaçar tanto a inclusão como a estabilidade social.
E assim, numa espécie de guerra de trincheiras os identitários viram uns contra os outros o rótulo de extremista ou radical. O cenário atual muitas vezes se parece com uma guerra de trincheiras, onde grupos identitários se posicionam em lados opostos, defendendo suas visões de mundo como verdades absolutas. Essa polarização cria uma atmosfera na qual rotular o outro como "extremista" ou "radical" se torna uma estratégia comum. Ao deslegitimar a posição oposta, cada grupo reforça a própria identidade e constrói uma imagem de ameaça em relação ao "outro". Esse mecanismo de rotulação, de facto, serve tanto para proteger a própria ideologia quanto para justificar medidas de defesa contra o que é visto como "inimigo".
O problema é que essa lógica de trincheira alimenta uma espiral de escalada, onde a capacidade de diálogo e a busca por compromissos são sacrificadas em prol de uma defesa intransigente das posições. Cada lado tende a ver o outro não só como adversário, mas como uma ameaça existencial que precisa ser neutralizada, levando a uma divisão profunda e uma perpetuação da inimizade. Além disso, essas trincheiras simbólicas acabam sendo reforçadas por algoritmos em redes sociais e meios de comunicação polarizados, que ecoam e amplificam o discurso interno de cada grupo. Assim, a "guerra de trincheiras" entre identitários não é apenas ideológica, mas também tecnológica e cultural, com as "armas" sendo a informação, a narrativa e a influência. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada, na qual a cooperação e a busca por soluções comuns se tornam raridades, enquanto o estado de tensão e vigilância mútua é normalizado.
Parece que a esperança de um cosmopolitismo universal se revelou uma espécie de cegueira dogmática e ideológica. A ideia de um cosmopolitismo universal, tão sonhada por pensadores iluministas e idealistas modernos, parece ter se confrontado com limites inesperados na realidade prática. A visão de um mundo sem fronteiras culturais, onde todos se identificariam com valores e uma "cidadania global", esbarra em realidades profundas e complexas, como o apego às identidades locais, culturais e nacionais. Esse ideal cosmopolita foi, em muitos aspetos, uma reação ao sectarismo, à guerra e ao nacionalismo extremo. Mas, ao ignorar as raízes culturais e os contextos históricos que moldam as sociedades, acabou criando uma espécie de "cegueira" em relação ao valor da diversidade de identidades e aos desafios de integrá-las em um modelo único. Em vez de eliminar os conflitos, o cosmopolitismo universal, como dogma, pode ter exacerbado tensões, despertando reações contra o que é percebido como uma imposição de valores externos ou uma ameaça à identidade local.
A ideia de um cosmopolitismo universal não necessita ser completamente abandonada, mas talvez ajustada à realidade das identidades culturais, onde a convivência exige um equilíbrio entre o global e o local, entre o universal e o particular. O mundo globalizado revelou que as diferenças culturais são mais resilientes e arraigadas do que muitos cosmopolitas imaginavam. No lugar de uma "comunidade universal", vemos a formação de bolhas culturais e ideológicas, que coexistem mais como competidoras do que como parceiras. Isso levanta a questão de se não deveríamos reavaliar a utopia cosmopolita e buscar modelos de convivência que respeitem as diferenças, sem a expectativa de uma fusão homogénea, mas sim com a valorização de uma diversidade saudável e, na medida do possível, cooperativa.
Novos fenómenos sociais, no início, são sempre vistos como radicais, mas neste momento os identitários estão a ganhar o coração de largas camadas das populações europeias e americanas. Movimentos identitários que antes pareciam marginais ou radicais encontram hoje uma receptividade crescente, em parte porque tocam em questões fundamentais de pertencimento, cultura e segurança diante de mudanças aceleradas. As camadas populacionais que se sentem desorientadas ou desvalorizadas pelo cosmopolitismo global e pela dissolução de tradições veem nos identitários uma promessa de revalorização de suas raízes e uma defesa contra aquilo que percebem como ameaças à sua forma de vida.
Esses movimentos estão-se popularizando não só pela reafirmação de valores culturais específicos, mas também por sua capacidade de dialogar com ansiedades sociais e económicas. Num contexto de incertezas sobre o futuro, muitas pessoas se voltam para narrativas identitárias que oferecem uma sensação de estabilidade e continuidade. O fenómeno é um reflexo da desconfiança em relação às elites políticas e intelectuais que, muitas vezes, foram vistas como defensoras de um ideal cosmopolita descolado da realidade vivida pelas classes médias e trabalhadoras. A popularidade dos identitários sugere uma transformação no modo como as sociedades veem a globalização e a integração cultural. Cada vez mais, o discurso identitário ganha contornos de resistência e, em certos casos, de contraponto a um multiculturalismo sem fronteiras. As camadas que agora abraçam esses valores parecem estar buscando uma renovação da coesão social, mas com uma base culturalmente enraizada, refletindo o desejo de pertencimento em um mundo que, paradoxalmente, está mais interconectado e mais fragmentado.
Em França vê-se o voto em Marine Le Pen, e na América em Donald Trump, quase metade por metade. As eleições na França e nos Estados Unidos ilustram bem esse fenómeno. Em ambos os países, figuras como Marine Le Pen e Donald Trump conseguiram captar o sentimento de descontentamento e alienação de amplas parcelas da população, canalizando-o em torno de uma visão identitária e nacionalista. Esses líderes têm atraído eleitores que se sentem negligenciados pelas políticas globalistas e pelas elites estabelecidas, oferecendo uma narrativa de "proteção" e "restauração" dos valores tradicionais. Na França, Marine Le Pen representa uma alternativa para aqueles que veem o crescimento do multiculturalismo e da imigração como uma ameaça à identidade francesa. Ela se posiciona como defensora de uma França soberana e culturalmente unificada, afastada dos projetos cosmopolitas e dos compromissos supranacionais, como os da União Europeia. Esse apelo ressoa especialmente em áreas fora dos grandes centros urbanos, onde o impacto da globalização é mais sentido em termos de perda de empregos, insegurança e transformações culturais aceleradas.
Nos Estados Unidos, Trump fez um movimento similar, apelando para a nostalgia de um "passado melhor" e prometendo "tornar a América grande novamente." Ele representa uma ruptura com o establishment e defende uma política que prioriza os interesses nacionais e culturais, frequentemente em oposição ao multiculturalismo e à imigração. Esse apoio maciço revela o desejo de metade da população por uma América mais fechada e fiel aos valores que considera "verdadeiramente americanos." Esses fenómenos em França e nos Estados Unidos não são casos isolados, mas parte de uma tendência mais ampla de ressurgimento do nacionalismo identitário no Ocidente, especialmente em tempos de incerteza global. É um reflexo da busca por segurança cultural e social num mundo que muitos sentem que está em transformação.
domingo, 27 de outubro de 2024
Avanços e percalços da História – Adagio opus nº 1
Aprendemos quase tudo com os outros, os velhos, os antepassados, pouca coisa inventamos ou criamos algo de novo. E é assim que o mundo pula e avança de vez em quando com alguns percalços. O conhecimento é uma longa corrente, com cada geração recebendo e reformulando o que foi transmitido pelas anteriores. Esse acúmulo é o que permite a civilização avançar, mesmo que nem sempre de forma linear. Os momentos de inovação radical, como os saltos tecnológicos ou mudanças de paradigma filosófico, são geralmente frutos de uma base consolidada por muitos séculos.
A guerra convencional renasceu com a guerra na Ucrânia, embora em transição para a guerra que aí vem, a guerra com a inteligência artificial. A guerra na Ucrânia sinalizou um retorno à guerra convencional, com tanques, artilharia e táticas que lembram conflitos do século XX. Mas, ao mesmo tempo, já traz o embrião de uma guerra futura, onde a inteligência artificial (IA) começará a desempenhar um papel cada vez mais decisivo. A IA na guerra representa uma transição profunda, com sistemas de drones autónomos, algoritmos de reconhecimento e estratégias de comando baseadas em análises em tempo real, alterando as formas de combate e reduzindo a necessidade de presença humana direta.
Por outro lado, temos as guerras dentro das cidades, verdadeiros campos de batalha entre identitários. As cidades modernas, em muitos aspetos, tornaram-se arenas de conflitos culturais, políticos e ideológicos intensos, algo que ressoa com a ideia de "guerras identitárias." Nesses contextos urbanos, onde múltiplas culturas, crenças e identidades coexistem, a tensão muitas vezes se torna inevitável, levando a confrontos que lembram, de certa forma, os campos de batalha de outros tempos — mas, aqui, as "armas" são mais frequentemente narrativas, discursos e disputas por reconhecimento.
Essas lutas urbanas não seguem o modelo de uma guerra convencional, mas têm um impacto real sobre o tecido social, a política e até a estrutura das leis. De certo modo, esse cenário também reflete o desafio contemporâneo de acomodar a diversidade em sociedades que buscam coesão, mas frequentemente se veem fragmentadas por questões de identidade, raça, gênero, religião e outros. O paradoxo é que, embora a cidade seja o símbolo da pluralidade, ela também se torna o palco onde as diferenças colidem e onde o espaço para diálogo se torna cada vez mais polarizado. Em alguns casos, o agravamento dessas tensões cria uma "zona de guerra" social e psicológica, onde a própria ideia de uma identidade comum é ameaçada. A longo prazo, essas "guerras de identidade" podem até redefinir o que entendemos por cidadania e comunidade, levando a um novo modelo de convivência — ou, em outro extremo, a um endurecimento das divisões e até à segregação.
Embora o cenário seja mais sofisticado, a essência do conflito lembra aquele estado de guerra quase medieval, onde o “outro” é frequentemente visto como uma ameaça existencial. Este é um estado de combate que não se limita a uma guerra convencional de territórios, mas se expande para uma luta por mentes, corações e até o futuro da civilização. Essa intensidade é, sem dúvida, uma característica que aproxima nosso tempo das épocas de fervor e cruzada do passado, ainda que a arena e os métodos tenham mudado. Moral da História: a História é um estado de guerra permanente, ora de baixa intensidade; ora de alta intensidade – um entendimento realista da História como um campo de tensões e conflitos constantes, onde o estado de guerra é quase um elemento permanente, apenas variando em intensidade. Há períodos de paz relativa, mas eles muitas vezes são interlúdios entre fases de conflito mais intenso. Essa continuidade de tensões — sejam territoriais, económicas, ideológicas ou culturais — parece moldar a trajetória humana, como se a própria condição histórica fosse essencialmente conflituosa.
Em momentos de baixa intensidade, os conflitos são sublimados por diplomacia, disputas económicas ou guerras culturais. Mas, em períodos de alta intensidade, explodem em guerras convencionais, revoluções ou até guerras ideológicas que dividem nações e sociedades internamente. Essa visão de "estado de guerra permanente" ecoa ideias de filósofos e pensadores que enxergam o conflito como parte inescapável da natureza humana e das relações entre coletividades. Pode-se dizer, então, que a História é esse movimento pendular entre momentos de "paz armada" e "conflito aberto" — uma dança entre forças de criação e destruição que, paradoxalmente, impulsionam o mundo adiante, enquanto as sociedades tentam alcançar estabilidade ou hegemonia sobre outras.
sexta-feira, 25 de outubro de 2024
A Suméria no centro das outras primeiras grandes civilizações
Embora o domínio sumério tenha sido temporariamente restaurado com a Terceira Dinastia de Ur (cerca de 2112-2004 a.C.), a civilização nunca recuperou totalmente a sua antiga glória. Por volta de 2000 a.C., os amoritas e, posteriormente, os elamitas começaram a invadir e conquistar regiões sumérias, levando ao colapso final das suas cidades-estados. A cultura suméria acabou assimilada pelas civilizações que a sucederam, como os babilónios e os assírios, mas muitos aspetos de sua cultura, religião e conhecimento influenciaram profundamente essas civilizações posteriores.
Há a tese de que o povo mitificado por Abraão emigrou por volta dessa altura (2000 a.C.) de Ur e foi depois da travessia do que é hoje a Síria instalar-se onde era Canaã ou Ugarit. A migração de Abraão e de seu povo, como descrito na tradição bíblica, ocorreu aproximadamente por volta de 2000 a.C., coincidindo com o declínio da civilização suméria. De acordo com a narrativa bíblica, Abraão teria saído de Ur, uma importante cidade suméria localizada na Mesopotâmia (no que hoje é o sul do Iraque), em direção à terra de Canaã. Essa migração pode estar conectada a movimentos populacionais mais amplos da época, possivelmente causados por fatores como a instabilidade política, invasões de povos estrangeiros, mudanças climáticas e a busca por novas terras férteis. Esses fatores poderiam ter motivado várias tribos ainda nómadas a se deslocarem do Crescente Fértil para outras regiões do Próximo e Médio Oriente.
Canaã era uma área influenciada por culturas como a dos cananeus e também próxima a Ugarit, um importante centro comercial e cultural da época, localizado na costa do Mediterrâneo (na atual Síria). A conexão entre esses movimentos históricos e as narrativas bíblicas é um tema de debate intenso entre estudiosos. Muitos acreditam que as histórias dos patriarcas bíblicos, como Abraão, foram baseadas em tradições orais que podem ter suas raízes em eventos históricos reais, embora a forma exata dessas migrações e suas datas específicas sejam difíceis de confirmar com precisão arqueológica. Essa tese é suportada por algumas narrativas como a Torre de Babel e outras estórias bíblicas, parecem estar conectadas a eventos históricos e culturais da Mesopotâmia e podem fornecer um pano de fundo para a compreensão dos movimentos populacionais e mudanças culturais daquela época.
A história da Torre de Babel, descrita no livro do Génesis, remete para uma era em que as sociedades se estavam a desenvolver rapidamente com a construção das cidades-estados, como Ur e Babilónia. A referência à construção de uma torre que deveria alcançar os céus e à subsequente dispersão das pessoas que falavam uma única língua pode simbolizar tanto a ambição e a unificação cultural das primeiras civilizações como a fragmentação resultante de conflitos e da diversidade linguística que surgiu com a migração de povos. Esse relato bíblico pode ser visto como uma alegoria para a complexidade crescente das sociedades urbanas da Mesopotâmia, que eventualmente enfrentaram tensões sociais, políticas e ambientais que contribuíram para a dispersão de suas populações. Na época, o declínio das cidades-estados e o aumento da instabilidade podem ter forçado grupos nómadas a buscar novas terras, como Canaã. Outras narrativas bíblicas, como as de Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, também parecem refletir experiências de deslocamento e migração. Esses relatos podem ser interpretados como memórias de movimentos populacionais que ocorreram durante a Idade do Bronze, quando grupos semíticos do norte da Mesopotâmia e das áreas circundantes migraram para o oeste, para a região de Canaã e toda o leste mediterrânico.
Durante algum tempo, os hebreus foram bem tratados no Egito e prosperaram na região de Gósen, uma área fértil no delta do Nilo. No entanto, com o passar dos anos, essa relação positiva mudou drasticamente. A narrativa bíblica relata que um novo faraó, “que não conhecia José,” subiu ao poder e começou a ver os hebreus como uma ameaça devido ao seu número crescente e à sua potencial influência. Esse novo faraó escravizou os hebreus e impôs-lhes trabalho forçado, dando início ao período de cativeiro que culminaria, segundo a tradição, com a liderança de Moisés e o êxodo do Egito. Esse evento se tornou um marco na identidade e na história do povo hebreu, simbolizando libertação e renovação.
Embora os relatos bíblicos tenham sido enriquecidos com elementos religiosos e simbólicos, há alguns indícios históricos e arqueológicos que apontam para movimentos de populações semíticas na região durante esse período. Esse contexto coincide com uma época de instabilidade onde várias culturas e cidades-estados passaram por mudanças e conflitos que facilitaram migrações e assentamentos de novos grupos. A longa jornada do povo hebreu, desde Ur até Canaã, passando pelo Egito e pelo Êxodo, reflete a luta de um povo por identidade e sobrevivência num cenário de transformações políticas e culturais profundas no antigo Médio Oriente.
Comércio e migração para a Arábia: Os sumérios também mantinham contactos comerciais com a Península Arábica. Eles negociavam com povos das regiões que hoje correspondem ao Omã e ao sul da Arábia Saudita. Itens como cobre, pedras preciosas e incenso eram trocados, itens que eram altamente valorizados nas cidades sumérias para construção, fabricação de ferramentas e em práticas religiosas. Além do comércio, a instabilidade política e o declínio gradual da civilização suméria levaram a uma série de migrações de pessoas para o sul, em direção à Arábia. Migrantes de Ur e outras cidades sumérias podem ter se deslocado para regiões da Península Arábica em busca de novas oportunidades ou devido à necessidade de escapar de conflitos e condições adversas em suas terras de origem. Esses movimentos populacionais ajudaram a disseminar ideias, tecnologias e práticas culturais sumérias para essas novas regiões, influenciando as sociedades locais.
Impacto cultural e tecnológico: A influência suméria nessas trocas comerciais e migrações se refletiu em aspetos culturais e tecnológicos em outras civilizações. Por exemplo, a escrita cuneiforme suméria e algumas técnicas de construção e irrigação foram difundidas para outras culturas, direta ou indiretamente, por meio dessas interações. Essas conexões comerciais e culturais entre a Suméria, o Vale do Indo e a Península Arábica mostram como as civilizações antigas eram interconectadas, criando uma rede de troca de bens e ideias que ajudou a moldar o desenvolvimento das culturas do Próximo e Médio Oriente.
quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Estatísticas - ingenuidades e manipulações
Há uma grande ingenuidade por parte dos crentes absolutos nos números, nas estatísticas, ao extraírem daí conclusões sociológicas e políticas precipitadas com enviesamentos. É o caso do perigo dos terroristas porque afinal matam muito poucas pessoas. Embora seja verdade que o número de vítimas de ataques terroristas seja, em termos absolutos, menor que o de mortes por outras causas (acidentes de trânsito, por exemplo), o impacto psicológico, político e social do terrorismo vai muito além dos números.
O enviesamento quantitativo pode ser uma ferramenta tanto da ingenuidade quanto da manipulação deliberada, e quando utilizado de maneira intencional por demagogos, o resultado é uma opinião pública profundamente confusa e desorientada. A capacidade de distorcer ou simplificar dados para apoiar uma narrativa política cria um ambiente onde as pessoas têm dificuldade em distinguir os factos das manipulações. Uma coisa é quando o ingénuo usa dados de forma enviesada, acreditando na autoridade dos números sem compreender as suas limitações ou complexidade. Ele pode acabar promovendo simplificações perigosas ou tirar conclusões erradas baseadas em correlações superficiais. Mas pior ainda é quando o demagogo utiliza esses mesmos dados com um propósito mais maquiavélico, não para esclarecer, mas para confundir, dividir e manipular a opinião pública. Ele conhece bem a força emocional que certos números podem evocar — especialmente quando relacionados a medo, insegurança ou injustiça.
A análise puramente estatística tende a subestimar o poder que certos fenómenos têm de desestabilizar sociedades, criar clima de medo e justificar mudanças políticas drásticas. A grande ingenuidade está em acreditar que só os números brutos contam, sem levar em consideração o papel que o terrorismo desempenha em manipular percepções públicas, influenciar políticas governamentais e criar divisões dentro das sociedades. Essa abordagem limitada muitas vezes ignora o contexto histórico, cultural e político mais amplo, que é essencial para entender como certos fenómenos afetam profundamente o tecido social.
Este tipo de erro ocorre em muitas vertentes da ação política, e mais ainda quando as pessoas colocam os seus argumentos em trincheiras partidárias. A polarização política exacerba essa tendência, onde cada lado seleciona dados que reforçam a sua narrativa, sem uma análise crítica e abrangente. Estatísticas sobre criminalidade também são usadas de maneira superficial por diferentes campos políticos. Um exemplo é a forma como os defensores de políticas de "tolerância zero" utilizam dados de queda no crime em cidades como Nova York para argumentar que punições severas reduzem a criminalidade. No entanto, críticos dessas políticas apontam para os mesmos dados, argumentando que as quedas no crime ocorreram em paralelo a outros fatores, como mudanças demográficas ou melhorias económicas, não apenas por causa das políticas repressivas. Em ambos os casos, a análise dos números pode ser seletiva e pouco preocupada com a complexidade das dinâmicas sociais.
A questão da imigração é um exemplo clássico de como estatísticas são manipuladas para defender posturas ideológicas. Partidos que adotam uma postura anti-imigração frequentemente apresentam dados sobre taxas de criminalidade ou pressão sobre serviços públicos atribuídas aos imigrantes. No entanto, esses números são, em muitos casos, distorcidos ou retirados de contexto, ignorando o impacto positivo da imigração sobre a economia, inovação e diversidade cultural. Por outro lado, os defensores da imigração podem minimizar desafios reais de integração social ou aumento de tensões culturais, ao focar apenas em dados de crescimento económico.
Na arena ambiental, estatísticas sobre aquecimento global, emissões de carbono e poluição são frequentemente usadas de maneira estratégica por ambos os lados. Negacionistas das mudanças climáticas podem apontar para dados de variações climáticas naturais ao longo da história da Terra para minimizar a urgência da ação climática, enquanto defensores de medidas drásticas podem usar cenários extremos para pressionar por políticas que, em alguns casos, podem ser economicamente inviáveis a curto prazo. Ambos os lados, portanto, selecionam estatísticas e estudos que reforçam suas visões, muitas vezes sem considerar os contextos científicos mais amplos ou as implicações sociais das suas propostas.
Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, o uso seletivo de estatísticas sobre mortes, contágios e a eficácia das vacinas foi amplamente explorado para justificar posições políticas. Certos grupos anti-vacina usavam dados brutos sobre possíveis efeitos colaterais de vacinas, ignorando o impacto esmagadoramente positivo das mesmas na contenção da pandemia. Da mesma forma, certas políticas de lockdowns foram justificadas com dados de mortalidade sem uma análise equilibrada sobre os efeitos colaterais, como problemas de saúde mental ou impactos económicos devastadores.
Esses exemplos mostram que as estatísticas, quando retiradas do contexto ou utilizadas para reforçar posições ideológicas, tornam-se menos uma ferramenta de esclarecimento e mais uma arma na disputa política. Isso revela um fenómeno mais amplo: o enviesamento de confirmação, onde os indivíduos e grupos políticos procuram dados que confirmem suas crenças e rejeitam ou minimizam informações que as contradigam.
Todas as situações que têm impacto na mente das pessoas, como amedrontá-las, o seu efeito pode ter extensões exponenciais. O medo, especialmente quando amplificado por narrativas políticas, mediáticas ou sociais, tem um impacto muito além do imediato podendo ter efeitos exponenciais. Isso se deve ao facto de que o medo altera profundamente a percepção das pessoas sobre risco e segurança, influenciando o comportamento coletivo de maneiras que podem ser exploradas por líderes, governos ou movimentos políticos para obter poder ou controlo.
A amplificação mediática tem um papel crucial em transformar incidentes isolados ou estatisticamente raros numa percepção de crise contínua. Quando eventos como ataques terroristas, crimes violentos ou desastres naturais recebem uma cobertura intensa e prolongada, isso cria a impressão de que esses eventos são muito mais comuns do que realmente são. A sensação de insegurança aumenta, e as pessoas passam a adotar comportamentos de precaução desproporcionado em relação ao risco real.
O medo também pode gerar divisões profundas na sociedade, criando um ambiente onde “o outro” é visto como uma ameaça constante. Em questões como imigração ou segurança, o medo gera desconfiança em relação a certos grupos sociais, minorias ou estrangeiros, amplificando o ressentimento e levando ao extremismo. Movimentos populistas, que não são apenas de direita pois também há populismo de esquerda, frequentemente exploram esse medo para mobilizar apoio, usando retórica que transforma grupos específicos em bodes expiatórios. O medo tende a criar um ciclo de feedback: quanto mais medo as pessoas sentem, mais elas demandam soluções rápidas e drásticas, e quanto mais essas soluções são implementadas, mais o medo é legitimado. Isso pode levar a um ambiente de constante paranoia, onde cada nova ameaça (mesmo que exagerada ou fabricada) parece confirmar a necessidade de medidas ainda mais extremas. Um exemplo disso é a tendência de certos governos de prolongarem estados de emergência, alegando continuamente novas ameaças.
Ora, o medo prolongado gera efeitos psicológicos duradouros, como ansiedade e desconfiança, que corroem a coesão social. Quando as pessoas vivem num estado contínuo de alerta e medo, as suas prioridades mudam drasticamente. Elas se tornam mais propensas a aceitar governos autoritários ou políticas que prometem segurança em troca de liberdade, perpetuando um ciclo onde os direitos individuais são sacrificados por uma suposta maior segurança. A política é feita de percepções e da sua manipulação.
A metáfora do Elefante numa loja de porcelanas é muito utilizada pelos políticos precisamente neste contexto. A "loja de porcelanas" aqui pode ser vista como a arena pública, internacional, onde as ações de ambos os lados são observadas de perto, e onde a destruição causada pela retaliação excessiva é amplamente criticada. Ou a do touro enraivecido que desta numa corrida desabrida depois de uma osca lhe ter entrado num ouvido. Pequenas ações, aparentemente insignificantes em escala, podem desencadear reações desproporcionadas com consequências destrutivas. Uma provocação bem colocada consegue incitar uma resposta devastadora de um adversário muito mais forte, o "touro". Mesmo que o touro tenha sido provocado, ele é quem leva a culpa pelos estragos, especialmente quando os danos incluem vidas civis e crianças.
Não faltam "touros temperamentais" no mundo. Muitos líderes ou nações, ao serem provocados por forças menores, reagem de forma exagerada, causando mais destruição do que o necessário. Isso não só perpetua o ciclo de violência, mas também torna mais difícil encontrar soluções pacíficas. Essa metáfora pode ser aplicada a muitos outros conflitos internacionais, onde o desequilíbrio de poder leva a reações descontroladas e a uma espiral de violência, manipulação de narrativas e polarização política. O grande desafio é que, no mundo real, esses "touros temperamentais" são atores estatais com grandes responsabilidades, e as suas reações não só afetam os alvos imediatos, mas têm ramificações globais, envolvendo alianças, direitos humanos e degradação da opinião pública internacional.
segunda-feira, 21 de outubro de 2024
A crítica das progressistas à gente conservadora
É tão legítimo uma pessoa ser progressista como conservadora, é tudo uma questão de bom ou mau feitio e que ninguém tem nada com isso. A diferença é que aqueles que têm bom feito sentem-se amedrontados com a tal “cultura do cancelamento”, embora os que têm mau feitio ficam mesmo muito irritados. Dado que, dizem os conservadores, esses progressistas não vivem nos bairros degradados das cidades, o que têm é a mania de se armarem em bem-pensantes só para chatear o indígena. Portanto, é esse tipo de distanciamento, em muitos casos, que provoca uma reação contrária, fazendo com que parte da população procure apoiar-se em movimentos de extrema-direita. E é por isso que, quando não é um partido de extrema-direita que vem ao encontro das suas preocupações, a terra até treme com tal erupção ardente.
A extrema-direita, com um discurso populista, tem capitalizado sobre esse ressentimento, oferecendo uma retórica de "resistência" ao que eles descrevem como imposições das elites progressistas. Eles se apresentam como defensores das liberdades tradicionais, da "normalidade" e do "bom senso", opondo-se ao que consideram uma agenda de minorias que atropela as maiorias silenciosas. O discurso conservador que promove a rejeição ao "politicamente correto" ressoa com aqueles que sentem que sua cultura e valores estão sendo atacados ou subvertidos pelas novas regras culturais.
Rejeição ao Politicamente Correto: Muitos sentem que o "politicamente correto" se tornou sufocante, inibindo a liberdade de expressão e criando um ambiente onde qualquer comentário ou atitude pode ser interpretado como ofensivo. A extrema-direita aproveita-se dessa frustração, posicionando-se como uma força que desafia essas normas e defende a liberdade de dizer o que se pensa, mesmo que isso seja visto como controverso ou inadequado. O foco progressista na diversidade e na inclusão de diferentes identidades e minorias, embora importante para muitos, é visto por outros como uma ameaça à identidade cultural e às tradições nacionais. A extrema-direita utiliza essa percepção para atrair aqueles que sentem que os valores tradicionais estão sendo ameaçados ou desvalorizados.
Alexandra Leitão, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, ontem no programa televisivo “O Princípio da Incerteza”, na sua crítica ao PSD, mostrou-se incomodada pelo facto de o momento alto do discurso de Luís Montenegro reunido em Congresso, ter sido quando anunciou mudanças numa disciplina que pretende formar melhores cidadãos. Ora, eu não fico surpreendido com isso na medida em que encaixa naquilo que são as bases do PSD no que respeita ao progressismo dos comportamentos sociais. Neste tópico de ação política o PSD não é progressista, digamos as coisas assim.
Essa tendência revela como o excesso de ortodoxia ideológica por parte das novas esquerdas pode, em vez de fortalecer a coesão social em torno de causas justas, acabar polarizando ainda mais a sociedade. Ao adotar posturas que, para muitos, parecem radicais ou excessivas, acabam empurrando um segmento significativo da população para os braços de movimentos mais autoritários e conservadores, exacerbando o ciclo de polarização e extremismo político.
Resumindo: as profecias de Marx em relação à vitória do proletariado não se confirmaram a ocidente, e a oriente o que vingou foi um capitalismo de Estado autoritário de partido único. As profecias de Marx sobre a vitória do proletariado e a inevitabilidade da revolução socialista não se concretizaram nas sociedades ocidentais desenvolvidas, onde o capitalismo se consolidou e evoluiu, resultando em um sistema político e económico que, em muitos casos, se baseia em valores democráticos e em um estado de bem-estar social. O proletariado, em vez de se unir contra a burguesia, muitas vezes se viu integrado em uma sociedade de consumo, com uma classe média crescente que se beneficia do capitalismo.
Por outro lado, nas sociedades orientais que adotaram a visão marxista, como a China e a ex-União Soviética, o que prevaleceu foi uma forma de capitalismo de Estado, caracterizado por um partido único que controla a economia e a política. Esse modelo combina elementos de planeamento central com práticas capitalistas, onde o Estado exerce um controlo autoritário sobre a vida política e social, enquanto se engaja em atividades económicas de mercado. Esse sistema desvirtuou a ideia original de uma sociedade sem classes proposta por Marx, resultando em novas formas de desigualdade e opressão. As visões marxistas sobre a transição do capitalismo para o socialismo não se realizaram conforme esperado no Ocidente, e o modelo que emergiu no Oriente não cumpriu as promessas de emancipação proletária, levando a um capitalismo estatal que perpetua formas autoritárias de governo. Essa desconexão entre a teoria marxista e a realidade política e económica observada ao longo do século XX e XXI levanta questões sobre a relevância do marxismo na análise contemporânea das sociedades.
A alienação das elites ou a metáfora das moscas na malformação moral
A metáfora das "moscas" na "malformação moral" presente nas ideologias políticas e nos conflitos entre países que leva a guerras, tanto faz ser o nazismo como o estalinismo, reside na disposição de subordinar o valor da vida humana e os princípios éticos a uma causa ideológica, seja ela de direita ou de esquerda. Nesse sentido, o que muda são os "rótulos" — as ideologias que justificam as ações — mas o desprezo pela dignidade humana e a propensão ao totalitarismo permanecem constantes. Ambos os regimes, em suas formas extremas, mostraram uma incapacidade de reconhecer o Outro como plenamente humano e uma disposição para usar a violência, a repressão e o terror em nome de um "bem maior" ou de um ideal utópico. Assim, os horrores do estalinismo e do nazismo compartilham a mesma base moral corrompida, embora sob bandeiras distintas: a luta de classes de um lado e a pureza racial de outro.
A metáfora também aponta para o facto de que, independentemente das mudanças de fachada ou de ideologia, o problema central é a desumanização e a instrumentalização das pessoas. Regimes extremistas, sejam comunistas, fascistas ou de qualquer outra orientação, tendem a se basear no mesmo princípio autoritário: a crença de que o fim justifica os meios, e que o poder pode ser exercido sem limites morais quando se trata de alcançar certos objetivos ideológicos. A reflexão final, portanto, é que a verdadeira batalha não é entre ideologias específicas, mas contra essa tendência humana à desumanização e à construção de sistemas que colocam a ideologia acima da ética e da vida. Trocam-se as "moscas", mas o pasto permanece o mesmo.
Um pasto mental muito em voga é o que hoje se dá pelo nome de "narrativas". Um alimento poderoso nas disputas políticas e nos conflitos contemporâneos impingido às massas amorfas para moldar a opinião pública e atrair simpatia ou apoio para diferentes causas. No caso específico do conflito no Médio Oriente, frequentemente destacam-se aspetos que podem sensibilizar a audiência global conforme simpatizamos com um lado ou com o outro. A narrativa de que "mulheres e crianças foram atingidas" é muitas vezes utilizada porque, em qualquer conflito, as vítimas civis tendem a gerar maior comoção e solidariedade. Isso não quer dizer que tais incidentes não ocorram, mas pode haver manipulação de informação para amplificar certos aspetos do conflito. A presença de operacionais do Hamas em áreas densamente povoadas e o uso de civis como escudos humanos, algo amplamente documentado, torna a linha entre combatentes e civis ainda mais turva.
Os intervenientes no mundo mediático, de que os jornalistas e os analistas ou comentadores são uma parte, e a classe política outra parte, podem, conscientemente ou não, ajudar a reforçar essas narrativas ao focar em determinadas imagens e histórias que ressoam emocionalmente. Isso gera uma percepção seletiva da realidade, onde a complexidade do conflito muitas vezes é reduzida a narrativas de "heróis" e "vilões", dependendo da perspetiva adotada. No entanto, é fundamental que a análise de qualquer conflito considere a multiplicidade de fatores envolvidos, sem cair em simplificações ou manipulações, reconhecendo que tanto a imprensa como os grupos envolvidos em conflitos armados têm interesse em influenciar a percepção pública.
A imparcialidade é uma virtude rara, quando até o "nós" e o "eles" ideológico contamina o jornalismo. A imparcialidade, que deveria ser um dos pilares do jornalismo, é muitas vezes comprometida quando o "nós" e o "eles" ideológico permeia a narrativa jornalística. Em vez de reportar os factos de maneira objetiva, muitos veículos de imprensa acabam assumindo uma postura enviesada, seja por pressão política, económica, ou por convicções ideológicas. Essa tendência é particularmente evidente em questões polarizantes, como conflitos armados, questões de justiça social ou debates políticos intensos. Quando o jornalismo se torna refém dessas divisões, ele passa a reforçar as crenças preexistentes de seus públicos, criando uma espécie de bolha informativa. Isso leva à formação de "nichos" de informação, onde as pessoas buscam notícias que confirmem suas visões de mundo, em vez de serem desafiadas por uma análise imparcial e abrangente dos factos.
O verdadeiro papel do jornalista deveria ser o de apresentar os acontecimentos com rigor e responsabilidade, permitindo que o público forme a sua própria opinião baseada em factos, não em interpretações enviesadas. A virtude da imparcialidade é rara porque requer a capacidade de separar as próprias convicções e resistir às pressões externas para moldar a narrativa de acordo com uma ideologia. Infelizmente, essa contaminação ideológica do jornalismo é também sintomática de uma era em que as fronteiras entre opinião e facto estão a tornar-se cada vez mais nebulosas, com o resultado de que o "nós contra eles" se intensifica, em vez de promover o diálogo e a compreensão mútua.
É um alerta contra a ideia de que é possível moldar a natureza humana de acordo com uma visão utópica. Qualquer tentativa de criar um mundo "perfeito" muitas vezes resulta na repressão das qualidades que nos tornam humanos — a liberdade, a individualidade, o direito ao erro, e a imperfeição. Essa busca por um ideal pode, paradoxalmente, levar à desumanização e à criação de um sistema opressor. O "aperfeiçoamento forçado" da condição humana, como visto em várias ideologias do século XX, levou a massacres e à repressão brutal em nome de uma visão de progresso ou pureza. No livro “Nós” Zamyatin destaca os custos humanos dessa tentativa de reformular a natureza humana e serve como uma crítica não só aos regimes totalitários, mas também a qualquer ideologia que proponha soluções definitivas para os dilemas humanos, à custa da liberdade individual e da diversidade. A obra de Zamyatin, ao lado de 1984 de Orwell e Admirável Mundo Novo de Huxley, é um dos grandes marcos literários que expõem os riscos inerentes à engenharia social autoritária e à supressão das complexidades humanas em nome de um suposto bem maior.
Uma posição moderada e equilibrada é sempre a melhor, mas ao mesmo tempo é muito ingrata porque é atacada pelos dois extremos, e os extremismos não olham a meios. A moderação e o equilíbrio costumam ser as posturas mais racionais e ponderadas, mas, paradoxalmente, também as mais vulneráveis em tempos de polarização. Quem ocupa uma posição moderada tende a buscar o diálogo, a compreensão mútua e a ponderação entre diferentes perspectivas, mas isso frequentemente atrai críticas dos dois extremos, que veem a moderação como fraqueza, indecisão ou até cumplicidade com o lado oposto. Os extremismos, por sua própria natureza, operam com base em certezas absolutas e dicotomias rígidas — "nós contra eles", "certo contra errado". A moderação, por outro lado, reconhece a complexidade e as nuances das questões, e tenta encontrar soluções que contemplem as diferentes partes envolvidas. Isso, porém, é algo que não agrada a quem busca respostas rápidas e simplistas, ou a quem deseja impor sua visão sem concessões.
Além disso, os extremistas costumam usar táticas agressivas, que incluem desqualificação moral, manipulação de informação e, em casos mais graves, violência física ou simbólica. Nesse contexto, o moderado enfrenta um grande desafio: enquanto tenta apelar ao diálogo e ao compromisso, os extremos não hesitam em utilizar todos os meios ao seu dispor para avançar suas causas. O resultado é que as vozes moderadas muitas vezes são sufocadas, não apenas pela agressividade dos extremos, mas também pela natureza dos debates públicos contemporâneos, que tendem a favorecer o confronto e a polarização, em vez do consenso. No entanto, apesar de ingrata, a moderação permanece essencial. Sem ela, as sociedades correm o risco de cair em ciclos de radicalização, onde o debate construtivo é substituído por imposições, e onde a intolerância e o dogmatismo minam qualquer possibilidade de coexistência pacífica.
A virtude da moderação, portanto, está em manter viva a possibilidade de diálogo e em resistir às tentações fáceis de extremismo. Embora seja um caminho mais difícil e menos recompensado a curto prazo, é frequentemente a única via capaz de preservar a coesão social e garantir soluções sustentáveis para os conflitos. Como a história tem mostrado, sociedades que caem na espiral do extremismo geralmente sofrem consequências devastadoras, enquanto os esforços de moderação, por mais ingratos que sejam, oferecem uma oportunidade para preservar a convivência democrática e a dignidade humana.
sábado, 19 de outubro de 2024
As novas esquerdas
As novas esquerdas, abandonando a luta de classes clássica, foi à procura de novas vítimas e novas causas, virando o feitiço contra o feiticeiro com uma espécie de nova inquisição. Essas correntes voltaram-se para novas causas e grupos marginalizados, criando o que muitos críticos chamam de uma "política de identidades". Em vez de concentrar a luta na opressão económica e na exploração do proletariado — como no marxismo clássico —, as novas esquerdas passaram a defender os direitos de minorias raciais, de género, LGBTQ+, e outras categorias sociais.
Esse movimento, para alguns, representou um desvio da análise materialista da luta de classes em favor de uma multiplicidade de causas culturais e sociais, centradas em identidades e experiências subjetivas. Os críticos dessa abordagem argumentam que, ao fragmentar a luta em várias causas menores, as novas esquerdas perderam o foco que sempre se colocou na desigualdade económica sistémica, que atravessa todas essas questões. Além disso, o foco na política identitária tem sido acusado de criar uma "nova inquisição", onde qualquer dissidência ou crítica às premissas dessas causas pode ser vista como um ataque moral, resultando em censura e ostracismo social. Tem sido alvo da crítica de pensadores conservadores e liberais que veem o ambiente político e cultural contemporâneo como marcado por uma forma de vigilância moral e social que foi rotulada como "doutrina de cancelamento" que inverteu a lógica tradicional da opressão. O "feiticeiro" original, representado pelas classes dominantes e pelas normas tradicionais, agora enfrenta uma espécie de repressão moral por parte daqueles que promovem causas identitárias.
Essas dinâmicas levaram a uma esquerda adotando métodos dogmáticos e punitivos, fazendo lembrar as práticas inquisitórias medievais. O resultado é um campo de batalha polarizado em argumentos onde campeia a irracionalidade. O argumento da política identitária é a luta por justiça social e igualdade. É o argumento da "intersecionalidade" que dá cobertura a todo o tipo de discriminados e marginalizados. De acordo com essa visão, a transformação social deve abarcar não apenas a economia, mas também as estruturas culturais e sociais que sustentam diferentes formas de discriminação. Em nome dos géneros e das liberdades sexuais, surgiram novos "arautos da boa moral", que, paradoxalmente, lembram os moralistas de outras épocas, mas com um discurso invertido. Esses novos arautos emergiram no contexto das políticas de identidade e da ampliação dos direitos sexuais e de género, promovendo a aceitação da diversidade e combatendo o preconceito. No entanto, em alguns casos, essa luta por inclusão e respeito gerou um ambiente onde a imposição de certos padrões ideológicos tornou-se rígida, resultando numa nova forma de moralismo.
A nova moralidade manifesta-se principalmente na forma do discurso e no tipo de comportamento. Qualquer desvio ou crítica em relação às normas de aceitação plena das novas identidades sexuais e de género pode ser visto como moralmente repreensível. As exigências por uma linguagem correta (como o uso de pronomes ou termos inclusivos) e a expectativa de total conformidade com as novas sensibilidades de género e sexualidade criam um novo conjunto de normas sociais e culturais com caráter punitivo. Aqueles que não aderem ou que questionam essas novas normas podem ser rapidamente "cancelados" ou marginalizados socialmente. O que antes era uma luta pela liberdade e contra a repressão sexual parece, em algumas visões críticas, ter-se transformado numa forma de ortodoxia moral. O controlo sobre o discurso público e a punição de quem diverge ou desafia essas normas fazem lembrar o velho puritanismo de cariz religioso.
Por conseguinte, e à guisa de conclusão, a cultura do cancelamento tenta forçar uma mudança na linguagem e nas normas sociais, muitas vezes punindo severamente aqueles que discordam ou cometem erros. Da mesma forma, a política externa de Bush, ao tentar impor a democracia como um sistema universal, ignorou as complexidades culturais, históricas e sociais dos países do Médio Oriente, levando a consequências desastrosas. Em ambos os casos, há uma certa falta de humildade e uma visão reducionista do outro. O comportamento reflete a crença de que há uma única verdade ou um único caminho correto a seguir, desconsiderando que as realidades sociais e políticas são muito mais complexas e diversificadas. Essas posturas podem alienar, causar resistência e, muitas vezes, produzir resultados contrários aos objetivos originais.
Nesse sentido, a linguagem se torna uma ferramenta de poder e controlo, pois as normas discursivas estabelecem os parâmetros daquilo que é considerado "real" ou "verdadeiro" em uma sociedade. A desconstrução, então, visa revelar essas estruturas subjacentes, demonstrando como os significados são construídos, muitas vezes de forma a servir interesses específicos ou manter certas hierarquias de poder. Esse pensamento tem profundas implicações para a política, a filosofia e a teoria social. Se a realidade é construída pela linguagem, então as estruturas de poder e opressão não estão apenas nas instituições físicas ou económicas, mas também nos próprios discursos que definem o que é normal, aceitável ou marginalizado. Isso é visível, por exemplo, em debates sobre identidade, género e raça, onde as categorias linguísticas moldam as experiências e realidades das pessoas.
Assim, para o desconstrutivismo, mudar a linguagem significa potencialmente mudar a realidade, e a luta política ou social pode envolver uma reconfiguração das categorias discursivas para desafiar as estruturas de poder estabelecidas. Esse foco no poder da linguagem também influenciou a crítica cultural contemporânea, incluindo o feminismo, os estudos pós-coloniais e as teorias queer, que utilizam a desconstrução para desvelar e questionar as construções culturais hegemónicas. Qual foi a posição de Allan Bloom nesta contenda entre os "bem-pensantes" do relativismo cultural? Bloom defendeu a ideia da educação dos Grandes Livros e tornou-se famoso por suas críticas ao ensino superior americano contemporâneo, com suas opiniões sendo expressas em seu livro best-seller de 1987, The Closing of the American Mind. [2] Caracterizado como um conservador na mídia popular, Bloom negou o rótulo, afirmando que o que ele buscava defender era a "vida teórica". Saul Bellow escreveu Ravelstein, um roman à clef baseado em Bloom, seu amigo e colega na Universidade de Chicago.
Allan Bloom acreditava que o relativismo, amplamente difundido entre os intelectuais e estudantes "bem-pensantes", havia corroído os valores fundamentais da civilização ocidental, resultando no declínio da educação liberal e no fechamento das mentes dos jovens. Bloom argumentava que o relativismo cultural, promovido em nome da tolerância e da igualdade, negava a existência de verdades universais e objetivas, especialmente em relação à moralidade, à política e à cultura. Ele via essa postura como uma rejeição da tradição filosófica do Ocidente, que se baseava na busca pela verdade e no cultivo de valores transcendentais, como os explorados por Platão, Aristóteles e os grandes pensadores do Iluminismo. Em vez disso, o relativismo, na visão de Bloom, promovia a ideia de que todas as culturas, crenças e valores eram igualmente válidos, o que, para ele, levava à passividade intelectual e ao niilismo. Um dos principais alvos de sua crítica foi a influência das teorias pós-modernas e desconstrutivistas nas academias, que, segundo ele, promoviam o abandono da ideia de verdade objetiva. Bloom via esse movimento como uma ameaça à capacidade dos indivíduos de fazer julgamentos racionais e discernir entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Ele acusava o relativismo de desmantelar os fundamentos éticos e filosóficos que sustentavam as democracias liberais e a cultura ocidental em geral.
Além disso, Bloom lamentava a erosão dos cânones clássicos da literatura e filosofia ocidental nas universidades, que, sob a influência do relativismo cultural, estavam sendo substituídos por uma ênfase excessiva na diversidade e na inclusão de perspetivas culturais e identitárias, muitas vezes em detrimento do estudo dos grandes pensadores do passado. Portanto, a posição de Allan Bloom foi de uma defesa vigorosa dos valores e da tradição ocidentais, com ênfase na educação liberal clássica e na busca por verdades universais. Ele via o relativismo cultural como uma ameaça intelectual e moral, que estava levando a sociedade ocidental a um estado de conformismo e superficialidade. Para ele, a educação deveria ser um caminho para a verdade e o desenvolvimento do caráter, não um exercício de celebração acrítica da diversidade cultural ou do pluralismo moral. Bloom era gay. Seu último livro, Amor e Amizade, foi dedicado a seu companheiro, Michael Z. Wu. Se ele morreu ou não de AIDS é um assunto de controvérsia.
sexta-feira, 18 de outubro de 2024
Mais alguns apontamentos sobre o choque de culturas
Ainda não se pode excluir em definitivo a tese de Huntington sobre a guerra entre duas civilizações: cristã e muçulmana, embora sem ser explicitada por razões de tabu. A tese de Samuel Huntington sobre o "Choque de Civilizações" continua a ser amplamente debatida, e, embora não seja sempre expressa abertamente, muitas vezes é considerada em discussões sobre os conflitos entre o mundo ocidental e o islâmico. O receio de se abordar esse tema diretamente pode, de facto, estar ligado a tabus culturais e políticos, especialmente na era pós-11 de setembro e com o aumento da globalização, que promove a coexistência de diferentes culturas.
Huntington previa que as grandes divisões culturais e religiosas seriam as principais fontes de conflito no mundo pós-Guerra Fria, especialmente entre o Ocidente cristão e o mundo muçulmano. Apesar de muitos criticarem essa visão por ser determinista ou por não levar em conta as complexidades internas dessas civilizações, os conflitos contínuos no Médio Oriente, o terrorismo jihadista e a resposta ocidental a esses fenómenos têm sido usados como exemplos que reforçam a sua teoria. No entanto, outros estudiosos apontam que o cenário global é muito mais multifacetado, com dinâmicas de poder que não podem ser totalmente explicadas por divisões religiosas ou civilizacionais. Além disso, o crescimento de questões transnacionais, como o aquecimento global e crises económicas, também desafia a ideia de que o principal eixo de conflito será entre civilizações religiosas.
De qualquer forma, a tensão entre o Ocidente e o mundo muçulmano continua sendo um tema central em discussões geopolíticas, mesmo que não seja formalmente discutido nos termos de Huntington. Entretanto os cristãos vão-se entretendo no seu interior com ateístas e adeptos de movimentos interseccionais. Enquanto Huntington previu um "choque de civilizações" no nível macro, entre o Ocidente cristão e o mundo muçulmano, há também conflitos internos profundos dentro das sociedades ocidentais. Esses conflitos não são necessariamente de natureza religiosa, mas sim culturais e ideológicas, envolvendo a tensão entre cristãos tradicionais, ateístas e adeptos de movimentos interseccionais.
Por um lado, os cristãos, especialmente os mais conservadores, frequentemente veem o secularismo crescente, o ateísmo e as ideologias interseccionais como ameaças à tradição e aos valores morais estabelecidos. A interseccionalidade, que aborda como diversas formas de discriminação (como raça, género e orientação sexual) se cruzam, é vista por alguns cristãos como parte de um projeto de desconstrução da identidade e dos valores ocidentais. Do outro lado, ateístas e interseccionalistas criticam a influência histórica e contínua do cristianismo nas esferas públicas e privadas, especialmente quando se trata de questões como direitos LGBTQ+, igualdade de género e liberdade religiosa. Esses grupos tendem a desafiar as bases tradicionais que moldaram grande parte da moralidade e da estrutura social ocidental.
Essas disputas refletem uma batalha cultural interna nas sociedades ocidentais, que frequentemente obscurece ou complica o confronto externo entre civilizações. Ao invés de um conflito unificado entre o "Ocidente cristão" e o "mundo islâmico", há divisões internas significativas que fragmentam a coesão dessas sociedades, tornando-as menos capazes de enfrentar desafios externos de maneira unida. Isso pode indicar que, no interior da civilização ocidental, o maior desafio pode não ser o confronto com outras civilizações, mas a própria crise de identidade e unidade. E com o mítico empoderamento feminino as mulheres escritoras protagonizam a temática do género, que em vez de dois géneros já há pelo menos uma dúzia. O empoderamento feminino tem impulsionado as mulheres a protagonizarem diversas temáticas, e o género é uma das mais centrais. Muitas escritoras contemporâneas exploram a fluidez e a complexidade do conceito de género, questionando as antigas binaridades e introduzindo uma maior diversidade de identidades.
Essa expansão das categorias de género reflete a crescente aceitação de que a identidade de género vai além da simples divisão entre masculino e feminino. As ideias em torno do género passaram a incluir múltiplas expressões, como o género não-binário, agénero, género fluido, entre outros, desafiando os limites tradicionais que foram estabelecidos por séculos. O número de géneros pode variar dependendo da abordagem e da interpretação, mas o ponto comum é que as categorias fixas estão sendo substituídas por uma visão mais inclusiva e flexível. No entanto, esse debate também gerou controvérsia. Em círculos mais conservadores, tanto religiosos como seculares, a multiplicidade de géneros é vista como uma desconstrução das normas naturais ou divinas, e há uma resistência em aceitar essa proliferação de identidades. Para outros, essa multiplicidade representa um avanço significativo em termos de liberdade e autodeterminação, permitindo que as pessoas se expressem de maneiras que antes eram reprimidas ou invisibilizadas.
As escritoras, especialmente no contexto feminista e interseccional, desempenham um papel crucial em promover essa narrativa. Elas estão desafiando não apenas as normas patriarcais, mas também as limitações impostas ao que significa ser mulher ou homem. O empoderamento feminino, neste contexto, está conectado a uma luta mais ampla pela inclusão de todas as identidades de género, dando voz a experiências que antes eram marginalizadas ou silenciadas. Esses debates revelam como a questão de género se tornou um campo cultural central, onde antigas tradições colidem com novas formas de pensar sobre identidade, corpo e sociedade.
A ideologia do "politicamente correto" surgiu nos últimos anos do século XX nas Academias da América sob a matriz da teoria crítica da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, desenvolvida por teóricos como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e outros, focava na crítica à cultura e às estruturas de poder no capitalismo avançado, introduzindo ideias marxistas em análises sociais, culturais e filosóficas. O "politicamente correto" surge como uma tentativa de ajustar a linguagem e os comportamentos para evitar ofensas ou exclusões de grupos historicamente marginalizados, como minorias étnicas, mulheres, LGBTQ+, entre outros. Essa preocupação em evitar discriminações é uma extensão das reflexões sobre opressão e poder que foram aprofundadas pela Escola de Frankfurt, embora o "politicamente correto" como prática não tenha sido uma criação direta deles.
Nas décadas: 1980 e 1990, as universidades americanas tornaram-se centros dessa nova sensibilidade, impulsionando uma revisão das práticas e currículos para incluir vozes historicamente marginalizadas e desafiar as normas estabelecidas. A crítica cultural, de inspiração marxista e freudiana, forneceu o arcaboiço para a desconstrução de discursos que naturalizavam as desigualdades. No entanto, o "politicamente correto" também gerou controvérsia e críticas. Muitos argumentam que ele limita a liberdade de expressão e promove uma forma de censura, inibindo o debate aberto. Por outro lado, seus defensores afirmam que ele é uma resposta necessária para corrigir as desigualdades e combater o preconceito enraizado nas estruturas sociais. Assim, enquanto a teoria crítica da Escola de Frankfurt forneceu uma base filosófica para a crítica das estruturas de poder, o movimento "politicamente correto" é um fenómeno mais recente, que se expandiu num contexto diferente, buscando transformar as relações sociais e culturais na sociedade moderna.
Ao cruzar as ideias de Marx com as de Freud, a Escola de Frankfurt distanciou-se do marxismo clássico em vários aspetos. O marxismo clássico, fundamentado nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels, enfatizava sobretudo a análise económica e as relações de produção, com foco na luta de classes, no materialismo histórico e na inevitável revolução proletária. No entanto, os teóricos da Escola de Frankfurt, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Erich Fromm, perceberam que o marxismo clássico não explicava totalmente porque o proletariado não havia se rebelado conforme previsto, especialmente no contexto das sociedades ocidentais capitalistas avançadas. Eles começaram a investigar não apenas as condições económicas, mas também as estruturas culturais e psicológicas que mantinham o capitalismo em funcionamento. A introdução de Freud e da psicanálise trouxe à tona a importância dos fatores psicológicos e subjetivos, como os desejos inconscientes, as repressões e as neuroses, para entender como as ideologias e as estruturas de poder operam não apenas no nível económico, mas também no íntimo da psique humana. Marcuse, por exemplo, em seu livro Eros e Civilização (1955), fundiu o pensamento marxista com a psicanálise de Freud ao argumentar que as repressões sexuais e emocionais impostas pelas sociedades capitalistas são formas de controlo que inibem o potencial revolucionário das pessoas.
Portanto, o desvio do marxismo clássico está justamente no deslocamento da ênfase estritamente econômica para uma análise mais abrangente das forças culturais e psicológicas que contribuem para a reprodução das relações de dominação, uma abordagem que tornou a Escola de Frankfurt uma das correntes fundadoras da teoria crítica moderna. Isso também explica porque o pensamento deles foi tão influente em campos como a crítica cultural, os estudos culturais, mais recentemente, as questões de identidade e género.